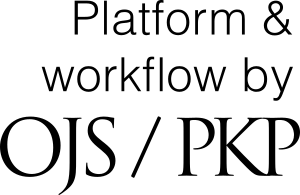A formação de educadores na licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal Fluminense: uma proposta de educação comprometida
DOI:
https://doi.org/10.48075/rtm.v18i33.33450Keywords:
Counter Hegemony, Organic Intellectuals, Educational PoliciesAbstract
The Countryside Education movement has put pressure on the state for an educational praxis linked to the lives and struggles of the various subjects that make up the Brazilian countryside, a process that has resulted in the development of specific training to serve schools and other educational spaces in rural areas. With this in mind, the aim of this article is to understand the political educational dimension that the Degree in Rural Education, based on the experience of the XXX, seeks to consolidate in future rural educators. In order to do this, we conducted semi-structured interviews with teachers from this degree program, asking them about their praxis, a movement that led us to the category of committed education. Pointing to a political educational dimension intrinsically linked to Agroecology, Emancipation and the Territory and responding to what this educational thinking is committed to, that is; the countryside and its demands from a popular perspective. A movement that generates institutional, social and political tensions because, as an educational policy linked to the labor pole, it has characteristics that seek to transform the circumstances of domination of the countryside and its subjects. Therefore, it is an educational perspective that proposes to be counter-hegemonic, whose ethical-political commitment, since its inception, seeks to form organic intellectuals of the working class.
References
ALFONSIN, J. T. Direitos Humanos. In: CALDART, R. S. et al. (Orgs.). Dicionário da Educação do Campo. Rio de Janeiro, São Paulo: Escola politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão Popular, p. 224-231, 2012.
ALTHUSSER, L. Ideologia e Aparelho ideológico do Estado. Trad. Joaquim José de Moura Ramos. Lisboa: Presença/Martins Fontes,1970.
ANDRADE, F. M. R.; NOGUEIRA, L. P. M.; NEVES, L. C.; RODRIGUES, M. P. M. Educação do Campo em giro decolonial: a experiência do Tempo Comunidade na Universidade Federal Fluminense (UFF). Revista Brasileira de Educação do Campo, v. 4, p. e7178, 19 dez., 2019. DOI: 10.20873/rbec. v4i0.7178.
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: edições 70, 1979.
BONI, V.; QUARESMA, S. J. Aprendendo a entrevistar: como fazer entrevistas em Ciências Sociais. Em tese, v. 2, n. 1, p. 68-80, 2005. DOI: 10.12957/emtese.2005.5443.
BRASIL. Presidência da República. Dispõe sobre a política de educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA. Decreto Nº 7.352, de 4 de novembro de 2010.
CALDART, R. S. Educação do Campo. In: CALDART, RS et al. (Org.). Dicionário da Educação do Campo. Rio de Janeiro, São Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão Popular, p. 259-267, 2012.
CALDART, R. S. Licenciatura em Educação do Campo e projeto formativo: qual o lugar da docência por área? In: MOLINA, MC & SÁ. LM (Org.). Licenciaturas em Educação do Campo: registros e reflexões a partir das experiências piloto (UFMG; UnB; UFS e UFBA). Belo Horizonte, Autêntica Editora, p. 95-121, 2011.
CHAUÍ, M. A sociedade democrática. In: MOLINA, MC; SOUZA JÚNIOR; JG; TOURINHO, F. (Org.). Introdução Crítica ao Direito Agrário. Brasília: Ed. da UnB (Coleção O Direito Achado na Rua, v. III), 2003.
FERNANDES, B. M. Território Camponês. In: CALDART, RS et al. (Org.). Dicionário da Educação do Campo. Rio de Janeiro, São Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão Popular, p. 746-749, 2012.
GOMES, E. M. Princípios Educativos para a Educação do Campo. In: Anielli Fabiula Gavioli Lemes, Carlos Henrique Silva de Castro, Clebson Souza de Almeida e Ofelia Ortega Fraile. Os Vales que Educam: 10 anos de alternâncias, autonomia e diálogos na Educação do Campo. São Carlos: Pedro & João Editores, 2020. DOI: 10.22267/23583223.22(2).220-253.
GOMES, R. SOUZA, E. R.; MINAYO, M. C. S.; MALAQUIAS, J. V.; SILVA, C. F. R. Organização, processamento, análise e interpretação de dados: o desafio da triangulação. In: MINAYO, Maria Cecília de Souza; ASSIS, Simone Gonçalves; SOUZA, Edinilsa Ramos. (Org.). Avaliação por triangulação de métodos: abordagens de programas sociais. Rio de Janeiro: Fiocruz, p. 185-221, 2005. DOI: 10.7476/9788575416723.
GRAMSCI, A. Cadernos do cárcere. volume 3 [recurso eletrônico]: Maquiavel, notas sobre o estado e a política, 1ª ed. – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017.
LEFF, H. Agroecologia e saber ambiental. Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável, Porto Alegre, v. 3, n. 1, p. 36-51, 2002. DOI: 10.18227/1982-8470/agro. v3i1.1226.
LIMA, S. C. S. Rompendo as cercas e ocupando o latifúndio do conhecimento: relato sobre a implementação do curso de educação do campo na UFF. In: Francisca Marli R. de Andrade; Fábio AG Oliveira; Michelle L. Domingues Paula Arantes BB Habib; Silvio C. de Souza Lima (Org.). Coletânea comemorativa cinco anos da Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo da Universidade Federal Fluminense (UFF). – Rio de Janeiro: Ape'Ku, 2022.
MAGNANI, L. H.; CASTRO, C. H. S.; MARQUES, L. O. C. Da política pública de Educação do Campo à prática acadêmica para formação de professores. In: Anielli Fabiula Gavioli Lemes, Carlos Henrique Silva de Castro, Clebson Souza de Almeida e Ofelia Ortega Fraile. Os Vales que Educam: 10 anos de alternâncias, autonomia e diálogos na Educação do Campo. São Carlos: Pedro & João Editores, p. 35-52, 2020. DOI: 10.22267/23583223.22(2).
MINAYO, M. C. S. Trabalho de campo: contexto de observação, interação e descoberta. in: DESLANES, Suely Ferreira; GOMES, Romeu; MINAYO, Maria Cecília de Souza. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 28ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, p. 61-77, 2009. DOI: 10.13140/RG.2.1.1661.4647.
MOLINA, M. C. Contribuições das Licenciaturas em Educação do Campo para as políticas de formação de educadores. Educação & Sociedade, 38(140), p. 587-609, 2017. DOI: 10.1590/es0101-73302017178020.
MOLINA, Mônica Castagna. Expansão das licenciaturas em Educação do Campo: desafios e potencialidades. Educar em Revista, 55, p. 145-166, 2015.
MOLINA, M. C. & Antunes-Rocha, M. I. Educação do Campo, história, práticas e desafios no âmbito das políticas de formação de educadores – reflexão sobre o PRONERA e o PROCAMPO. Revista Reflexão e Ação, Santa Cruz do Sul, RS, v. 22, n. 2, p. 220-253, 2014. DOI: 10.17058/rea. v22i2.5827.
NEVES, L. C. Educação do Campo em movimentos: lutas sociais e embates políticos por direitos educativos diferenciados. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo) - Universidade Federal Fluminense, Santo Antônio de Pádua - RJ, 2020.
ROSSATO, M.; MARTÍNEZ, A. M. A metodologia construtiva-interpretativa como expressão da Epistemologia Qualitativa na pesquisa sobre o desenvolvimento da subjetividade. Investigação Qualitativa em Educação, v. 1, p. 343-352, 2017. DOI: 10.37156/inq. v1i1.57.
SAVIANI, D. História, educação e transformação: tendências e perspectivas para a Educação Pública no Brasil. In. LOMBARDI, JC; SAVIANI, D. História, educação e transformação. Tendências e perspectivas para a educação pública no Brasil. Campinas, SP: Autores Associados, 2011.
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Projeto Pedagógico de Curso de Licenciatura Interdisciplinar de Educação do Campo. Santo Antônio de Pádua – RJ: Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior, 2018.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Aviso de Direito Autoral Creative Commons
Política para Periódicos de Acesso Livre
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
1. Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Attribution que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista.2. Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
3. Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso Livre).
Licença Creative Commons
Esta obra está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional, o que permite compartilhar, copiar, distribuir, exibir, reproduzir, a totalidade ou partes desde que não tenha objetivo comercial e sejam citados os autores e a fonte.